Um resgate do ciberfeminismo a partir da interseccionalidade e da tecnopolítica

Descrição da Imagem: Uma mulher negra com um celular numa mão e a outra levantada dando play em uma tela andando por um campo com imagens de redes sociais. Ilustração por Neema, GenderIT. Creative Commons BY-NC-SA
A BaixaCharla de maio de 2021 resgatou um tema que volta e meia é debatido por aqui: o ciberfeminismo. Foi a primeira edição que contou com a nova integrante do BaixaCultura, Tatiana Balistieri, que discutiu junto com Leonardo Foletto e a convidada Graciela Natansohn, professora da UFBA, coordenadora do Grupo de pesquisa em gênero, Tecnologias Digitais e Cultura (GIG@) e uma das principais referências latino-americanas na área. Escolhemos como pretexto do debate o livro Ciberfeminismos 3.0, lançado ainda este ano pelo grupo e organizado por Graciela, que traz textos escritos por diversas autoras (maioria) e autores – algumas estudantes e participantes do grupo de pesquisa – além de pesquisadoras estrangeiras convidadas. O livro [que pode ser baixado aqui] tem como tema central o ciberfeminismo não mais da web 2.0, mas da Web 3.0, que traz características de um feminismo interseccional que questiona a perda da inocência da neutralidade da tecnologia, compreende as brechas e violências digitais e elucida a episteme perversa colonial dominante que se datatificou por algoritmos.
Ciberfeminismos: “que palavra antiga né?”, diz Graciela. Ela fala também de outras palavras para representar os diversos movimentos de luta, como hackfeministas, transhackfeministas, que remetem ao hackativismo, prática ativista do uso de aparatos técnicos – softwares, hardwares e redes diversas – para promover certas causas. Graciela diz que a palavra “ciber” sozinha significa tudo e nada, e remete ao uso pioneiro pelo coletivo de mulheres australianas VNS (VeNuS) Matrix na década de 90, que desenvolviam práticas artísticas feministas pela internet. A internet naquela época era de mais restrito acesso, portanto mais elitista, mas também muito mais aberta e livre de controle e de vigilância. Portanto o ciberfeminismo daquele período estava mais ligado a correntes brancas hegemônicas e ocidentais – quem de fato tinha acesso à internet, computadores e a tecnologia digital na época.
Uma das preocupações atuais do que se chama ciberfeminismo 3.0 também é algo que ocorre no feminismo sem o “ciber”: a despolitização de discursos como o feminismo liberal, que supõe que alçando o mesmo estatuto dos homens está tudo resolvido. O conceito de feminismo passa pelo conceito de humano; sendo assim, quem foram as pessoas excluídas do termo humano? Negros, indígenas e transexuais, principalmente. Portanto, um termo como o feminismo não pode excluir pessoas negras e trans; deve-se abranger o todo humano de quem também é merecedor de estar na luta a partir desta palavra. Incluir ao invés de excluir. Isso faz parte das guerras ideológicas e de narrativas, como qualquer movimento social tem.
O feminismo, na visão de Graciela, pode ser aquele que faz uma leitura histórica focada no poder, como os coletivos feministas já vem atuando em entidades como a Associação para o Progresso das Comunicações – que foram essenciais para a articulação global das mulheres, na época da IV Conferência Mundial das Mulheres, em Pequim, 1995. Durante a conferência, conhecida por ser a primeira a chamar atenção formalmente sobre a comunicação ser um direito humano das mulheres, a APC disponibilizou formação técnica para mais de 1.700 mulheres, e que hoje elas se popularizaram a partir da edição do periódico Gender It , um órgão transnacional, que desde a década de 90 estuda feminismo e tecnologia.

Descrição da imagem: Ilustração que mostra quatro mulheres diferentes com os punhos erguidos. Fonte: Princípios de FRIDA para orientar dados e tecnologia
“Há uma apropriação da internet pelos movimentos feministas de uma forma fantástica. Quando se fala em 1.0, 2.0, 3.0 não estou falando de etapas lineares, pois coexistem os projetos 1.0, 2.0 e agora o experimento 3.0 coexiste com as três posições anteriores, a partir do giro ciberfeministas, do jeito que nos apropriamos da internet”, diz Graciela. As discussões não são mais baseadas somente em redes sociais – Twitter, Instagram, Facebook – mas também em formas de hackear o sistema, que significa sair da ponta do “iceberg digital” e pensar em outras formas de constituir tecnologia e resistência política.
Na diferenciação entre os termos ciberfeminismo e o hackfeminismo, muitos coletivos aderem ao ciber e não se identificam como hackerfeministas. Graciela explica a facilidade para escolher o termo ciberfeministas e complementa que o termo hackerfeminismo vem dos valores da cultura hacker aderidos ao feminismo digital, de um mergulho com mais profundidade nos princípios e práticas hackers e não “ficar apenas na superfície”. Estar somente na superfície da rede é depender somente da parte “indexada” da internet, usar softwares, canais, sites e navegadores privados pertencentes às chamadas Big Techs, caso de Google, Facebook, Amazon. Abaixo da superfície seria um uso mais político e consciente da internet e das tecnologias digitais, a partir de redes criptografadas e que garantem a privacidade como o Tor, i2p (Internet “invisível) e a Freenet.
As diferenças sociais e culturais de como o feminismo se constituiu globalmente pode ser enxergada também na construção das lutas, características e histórias do ciberfeminismo no hemisfério sul. O “Ciberfeminismo 3.0” vem então para abranger diferentes formas e ondas surgidas até aqui, mas com posicionamento mais claro sobre a vigilância, cultura livre e os males da tecnologia em relação às ‘minorias’. Além das questões machistas e homofóbicas, há também agora um maior entendimento sobre raça e classe, no que se convencionou chamar de “interseccionalidade”, o que potencializa a luta contra a discriminação do atual mercado neoliberal que suprime cada vez mais as mulheres, principalmente negras e indígenas.
A diferença do ciberfeminismo 3.0 para outros se dá sobretudo em como se pensa a economia política na internet. Graciela cita na charla, como exemplo, uma conversa com companheiras chilenas sobre a extração de lítio, um recurso essencial para a produção de computadores. É um trabalho predominantemente de mulheres, que ocorre em lugares tóxicos, em fábricas fechadas, com pouca circulação de ar e sem equipamentos adequados de acesso às trabalhadoras. É uma amostra de um tipo de causa que, mesmo não sendo “digital”, passou a ser incorporada no ciberfeminismo atual.
Há diversas diferenças também entre o ciberfeminismo latino-americano. Entre o México e o Brasil, por exemplo, há duas distinções fundamentais: enquanto que no México, a partir de uma tradição ativista que remete ao autonomismo do movimento zapatista, os grupos ciberfeministas não lutam por intervenção do Estado contra o fim do feminicídio, mas pelo apoio mútuo entre as coletivas e movimentos de mulheres, no Brasil os movimentos feministas querem que o Estado intervenha, atue para de fato combater o feminicídio e outros crimes praticados contra às mulheres.
Outro tema abordado na charla foi o tema da crítica da colonialidade dos dados. A exemplo de termos e apropriações, existem as “hackatonas”- para substituir a palavra hackathons -, feito por grupos de feministas que se apropriam de espaços predominantemente masculinos. Graciela cita uma primeira hackatona que ocorreu na UFBA em Salvador, também fala do primeiro batalhão policial feito somente de mulheres para atender casos de violência contra a mulher, a Ronda Maria da Penha, comenta da “Beta”, robô que auxilia por meio de abaixo assinados nas decisões políticas e informa sobre os trâmites legislativos de projetos de lei relacionado a vida das mulheres. Por fim, também cita outras autoras latino americanas ciberfeministas e projetos liderados por mulheres, como o Internetlab, PretaLab, MariaLab, Vedeta – alguns desses podem ser encontrados em Iniciativas tecnopolíticas feministas para conhecer e inspirar – BaixaCultura.
Confira a charla como podcast abaixo. Você também pode escutar no Anchor, Spotify, Apple Podcasts, entre outras plataformas de streaming.
[Tatiana Balistieri e Leonardo Foletto]
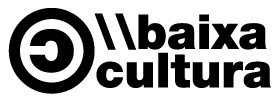



Deixe um comentário