O “plágio” de Moacyr Scliar
E nessa onda de uma obra ser baseada numa história, que é influênciada por outros elementos, que por sua vez se originam de outras lendas, contadas e recontadas desde não se sabe quando e nem com quem começou, aproveitamos para deixar uma singela homenagem a um querido escritor gaúcho falecido há pouco. Moacyr Scliar se foi em 27 de fevereiro e foi internacionalmente reconhecido como um dos mais prolíficos escritores brasileiros: mais de 70 livros – de romances, contos, infantis, crônicas, ensaios. [Não podemos deixar de citar o mais sincero obituário escrito sobre Scliar, a cargo de Carlos André Moreira, repórter de Livros da Zero Hora e escritor].
Scliar tanto fez “remixes” em suas obras, como no notório “O Centauro no Jardim” e em numerosas outras, quanto teve suas obras remixadas, como o famoso caso de “plágio” feito a partir de seu livro “Max e os Felinos“, de 1981.
O escritor canadense Yann Martel ficou famoso – pelo menos no Brasil – por se inspirar em uma ideia de Scliar. Martel recebeu os 75 mil dólares do Booker Prize em 2002 pelo seu romance “A Vida de Pi“. A história fala de um menino que naufraga num barco com um tigre – mesmo tema do Max e os Felinos – só que obviamente com variações e sem trechos idênticos. No de Scliar, um jovem judeu divide um bote salva-vidas com uma pantera. No de Martel, um adolescente indiano divide o espaço com um tigre, e outros bichos. Foi o bastante para gerar toda uma polêmica, que no fim ajudou a divulgar o livro de Scliar e que o fez escrever o texto que reproduzimos abaixo, disponível no Digestivo Cultural.
Nele, o brasileiro explica muito bem como ficou sabendo da versão de Martel e como encarou isso e toda a fuzarca que se seguiu. Sensatamente, reconhece um dos conceitos de propriedade intelectual: de que as ideias não são protegidas por direitos autorais. O que é protegido é a determinada forma de exteriorização de uma ideia. E Scliar tinha clara noção disso, evitando uma possível briga judicial que agradaria aos mais afetados. Hoje o texto aparece como Introdução nas edições de Max e os Felinos, pela L&PM Pocket (esgotado, infelizmente).
Além dessa atitude, Scliar mais tarde participou de um projeto de autoria coletiva. Durante a Bienal do Livro de São Paulo em 2008, ele escreveu o primeiro capítulo de “O Livro de Todos – O Mistério do Texto Roubado” um projeto que funcionou como campanha publicitária e cuja história poderia ser continuada pelos leitores no site criado. Foram selecionados 173 textos, que podem ser lidos na íntegra no site, e que se juntaram ao do saudoso e gentil Moacyr.
.
Um estranho incidente literário
O Destino ainda bate à porta, claro, mas nesta época de comunicações instantâneas prefere o telefone. Na tarde de 30 de outubro de 2002, voltando para casa cansado de uma viagem, recebi uma ligação. Era uma jornalista do jornal O Globo, dando-me uma notícia que, a princípio, não entendi bem: parece que um escritor tinha ganho, na Europa, um prêmio importante com um livro baseado em um texto meu.
Minha primeira reação foi de estranheza: um escritor, e do chamado Primeiro Mundo, copiando um autor brasileiro? Copiando a mim? Ela se ofereceu para me dar mais detalhes, o que foi feito em telefonemas seguintes, e assim aos poucos fui mergulhando no que se revelaria, nos dias seguintes, um verdadeiro torvelinho, uma experiência pela qual eu nunca havia passado.
Sim, um escritor canadense chamado Yann Martel havia recebido, na Inglaterra, o prestigioso prêmio Booker, no valor de 55 mil libras esterlinas, conferido anualmente a autores do Commonwealth britânico ou da República da Irlanda (entre outros: Ian McEwan, Michael Ondaatje, Kingsley Amis, J.M. Coetzee, Salman Rushdie, Iris Murdoch). Sim, ele dizia que havia se baseado em um livro meu, Max e os felinos, publicado no Brasil em 1981, pela L&PM (Porto Alegre), e traduzido poucos anos depois nos Estados Unidos como Max and the Cats (Nova York, Ballantine Books, 1990) e na França como Max et les Chats (Paris, Presses de la Renaissance, 1991). É uma pequena novela que escrevi com grande prazer ― lembro-me de um fim de semana na serra gaúcha em que matraqueava animado a máquina de escrever, em todos os minutos em que não estava cuidando de meu filho, ainda pequeno.
Minha primeira reação não foi de contrariedade. Ao contrário, de alguma forma senti-me envaidecido por ter alguém se entusiasmado pela ideia tanto quanto eu próprio me entusiasmara. Mas havia, na notícia, um componente desagradável e estranho, tão estranho quanto desagradável. Yann Martel não tinha, segundo suas declarações, lido a novela. Tomara conhecimento dela através de uma resenha do escritor John Updike para o New York Times, resenha desfavorável, segundo ele.
Esta afirmativa me perturbou. Max and the Cats não chegou a ser um best-seller, mas os artigos sobre o livro, que me haviam sido enviados pela editora, eram favoráveis ― inclusive o do New York Times, assinado por Herbert Mitgang. Teria Updike escrito uma outra resenha ― para o mesmo jornal? Se era esse o caso, por que eu não a recebera? Será que os editores só mandavam resenhas favoráveis?
À afirmativa seguia-se um comentário de Martel. Uma pena, dizia ele, que uma ideia boa tivesse sido estragada por um escritor menor. Mas, em seguida, levantava uma outra hipótese: e se eu não fosse um escritor menor? E se Updike tivesse se enganado? De qualquer maneira a ideia principal do livro serviu-lhe de ponto de partida para sua obra The Life of Pi. E qual é essa ideia?
O Max Schmidt de meu livro é um jovem alemão que está fugindo do nazismo e que embarca para o Brasil. O navio em que viaja, um velho cargueiro, transporta também animais de um zoológico. Há um naufrágio, criminoso, mas Max salva-se em um escaler. E de repente sobe a bordo um sobrevivente inesperado e ameaçador: um jaguar. Começa então a segunda parte da novela, que tem como título “O jaguar no escaler”.
Esta, a ideia que motivou Martel. O seu personagem, Piscine Molitor Patel, Pi, é um menino hindu cujo pai é dono de um zoológico. A família emigra para o Canadá, levando os animais a bordo. Há, na segunda parte do livro, um naufrágio (que depois será considerado criminoso). Pi salva-se. No mesmo barco estão um tigre de Bengala, um orangotango e uma zebra. O tigre liquida os três e Pi fica à deriva com o felino por mais de duzentos dias.
O texto de Martel é diferente do texto de Max e os felinos. Mas o leitmotiv é, sim, o mesmo. E aí surge o embaraçoso termo: plágio.
Embaraçoso não para mim, devo dizer logo. Na verdade, e como disse antes, o fato de Martel ter usado a ideia não chegava a me incomodar. Incomodava-me a suposta resenha e também a maneira pela qual tomei conhecimento do livro. De fato, não fosse o prêmio, eu talvez nem ficasse sabendo da existência da obra. No lugar de Martel eu procuraria avisar o autor. Aliás, foi o que fiz, em outra circunstância. Meu livro A mulher que escreveu a Bíblia” teve como ponto de partida uma hipótese levantada pelo famoso scholar norte-americano Harold Bloom segundo a qual uma parte do Antigo Testamento poderia ter sido escrita por uma mulher, à época do rei Salomão. Tratava-se, contudo, de um trabalho teórico. Mesmo assim, coloquei o trecho de Bloom como epígrafe do livro ― que enviei a ele (nunca respondeu ― nem sei se recebeu ―, mas eu cumpri minha obrigação). Martel agiu de maneira diferente. No prefácio, em que agradece a muitas pessoas, atribui a “fagulha da vida” (“the spark of life“) que o motivou a mim. Mas não entra em detalhes, não fala em Max e os felinos.
Nada se cria, tudo se copia, é um dito frequente nos meios acadêmicos. Escrevendo a respeito do incidente (prefiro este termo), Luis Fernando Verissimo observou que Shakespeare baseou numerosas obras em trabalhos de contemporâneos menores. Em realidade, não há escritor que não seja influenciado por outros ― Bloom, a propósito, fala da “angústia da influência”. Quando comecei a rabiscar meus primeiros textos, copiava descaradamente. Em redações escolares, transcrevi várias frases do Cazuza, de Viriato Correa, um livro que foi lido por várias gerações de crianças brasileiras. Mas isto, no começo. É um sinal de maturidade procurarmos andar com nossas próprias pernas. E também é um sinal de maturidade reconhecer, de forma explícita, a utilização do material de outros. Em trabalhos científicos isto é feito mediante citação bibliográfica. A transcrição também não pode ser extensa.
Essas coisas são levadas cada vez mais a sério, apesar de a noção de propriedade intelectual ser relativamente nova na história da humanidade. Tomemos, por exemplo, os trabalhos de Hipócrates, considerado o pai da medicina, e que viveu no século V a.C.. É difícil saber o que é realmente obra dele e o que foi escrito por seus discípulos. O nome Hipócrates era uma grife, uma gratuita franchising. Era livremente usado porque à época não havia direitos autorais. Em matéria de texto, isso surgiu com a indústria editorial, portanto em plena modernidade. Shakespeare ainda vivia uma fase de transição.
Uma ideia é uma propriedade intelectual. Isto não significa que não possa ser partilhada. Pode, sim, e frequentemente o é. Um editor propõe um mesmo tema para vários autores e faz uma antologia com os trabalhos: nada demais nisso. Um autor não está prejudicando o outro. É diferente da situação de um produto qualquer que é copiado, o que implica prejuízo para o produtor original ― a pirataria. Usar a mesma ideia literária não chega a ser pirataria.
Depois de muito debate sobre o assunto o livro de Martel finalmente chegou-me às mãos. Li-o sem rancor; ao contrário, achei o texto bem escrito e original. Ali estava a minha ideia, mas era com curiosidade que eu seguia a história; queria ver que rumo tomaria sua narrativa ― boa narrativa, aliás, dotada de humor e imaginação. Ficou claro que nossas visões da ideia eram completamente diferentes. As associações que eu fiz são diferentes das que Martel faz.
Um náufrago num escaler diante de um jaguar ― o que significaria aquilo para mim? Por que teria me ocorrido aquela imagem? É uma pergunta que pode se aplicar a qualquer obra de ficção (e a qualquer sonho, qualquer fantasia). E que admite dois tipos de resposta, em níveis diferentes. Um, mais profundo, e por conseguinte mais misterioso, diz que tais coisas se originam no inconsciente; são fantasias ligadas a traumas, cuja elaboração pode demandar muitas horas-divã. O outro tipo de explicação é aquele que ocorre ao próprio autor. Para mim o jaguar era a imagem de um poder absoluto e irracional. Como foi o poder do nazismo, por exemplo. Ou, numa escala bem menor, o poder da ditadura militar que se instalou no Brasil em 1964. Martel dá uma conotação diferente ― religiosa ― à imagem. E isto, presumo, deve ter reforçado nele a convicção de que não estava copiando, mas sim usando a ideia como ponto de partida.
***
Seja como for a história, teve desdobramentos surpreendentes. Nos dias que se seguiram, comecei a receber cartas, e-mails, telefonemas ― e, sobretudo, pedidos de entrevistas de vários órgãos da imprensa. Não sou um autor desconhecido, mas certamente nenhum dos meus livros teve a repercussão alcançada por esse. E nenhum esteve envolvido em tanta confusão. Confusão esta que começou com a divulgação ― extra-oficial ― do resultado do prêmio, num site da internet, um “fiasco”, na expressão do jornal londrino The Guardian, de 26 de outubro. Simultaneamente, vinha à luz a questão da ideia do livro. Em 27 de outubro, o próprio Yann Martel publicou no The Sunday Times, de Londres, um artigo que falava sobre o seu livro ― e o meu. No domingo, 3 de novembro, O Globo publicou, em página inteira, a matéria para a qual eu tinha sido entrevistado. A jornalista Daniela Name lembrava: “Max e os felinos não é o primeiro romance brasileiro supostamente plagiado por um autor estrangeiro. Publicado em 1934, “A sucessora”, de Carolina Nabuco, gerou um debate literário quando “Rebecca”, da inglesa Daphne du Maurier, foi editado quatro anos depois”. (Rebecca, aliás, foi adaptado para o cinema por Alfred Hitchcock.) Dois dias depois, apareceu um outro artigo, vastamente difundido pelas agências internacionais: aquele escrito para o New York Times pelo correspondente do jornal no Brasil, Larry Rohter, que me entrevistou por telefone. O título era: “Tiger in a Lifeboat, Panther in a Lifeboat: a Furor Over a Novel” (“O tigre num bote, a pantera num bote: um escândalo sobre um romance”). Depois de explicar aos leitores americanos como pronunciar meu nome (“Mouhseer Skleer”), Rohter falava do sucedido, destacando que seu jornal jamais tinha publicado qualquer resenha de John Updike acerca de Max and the Cats. Também mencionava a reação da imprensa brasileira.A isto seguiu-se a reação de um órgão da imprensa canadense, o National Post. A matéria publicada no dia 7 de novembro levava como título: “New chapter in a nation’s rage toward Canadá” (“Um novo capítulo na raiva de uma nação [o Brasil] contra o Canadá”). E o subtítulo, usando a aliteração de que os anglo-saxões tanto gostam, era muito significativo: “Beef, Bombardier, books”. O texto procurava associar a questão dos livros com os episódios da proibição da importação da carne brasileira pelo Canadá (o “beef”) supostamente por razões sanitárias, e a concorrência entre a brasileira Embraer e a canadense Bombardier para a venda de aviões. Ou seja: o assunto estava ultrapassando os limites da controvérsia literária. E difundia-se cada vez mais, como constatei, ao procurar descobrir na internet o noticiário a respeito. Entrei no Google, digitei dois nomes, Yann Martel e Moacyr Scliar ― e fiquei estarrecido: havia mais de quinhentos textos sobre o affaire. E os pedidos de entrevistas continuavam. No dia 15, cheguei aos Estados Unidos, onde deveria dar uma palestra em Amherst, Massachusetts. Em minha passagem (de menos de um dia) por Nova York, fui entrevistado por cinco órgãos de imprensa.
A pergunta que mais me faziam ― e, nos Estados Unidos, faziam-me de forma insistente ― dizia respeito a um processo judicial. Algo para o qual eu não tinha a menor disposição. Não só porque demandaria tempo e energia, como também porque minha atitude não era, e nem nunca foi, litigante. Como mencionei antes , se, ao tempo em que começou a escrever seu livro, Yann Martel tivesse entrado em contato comigo dizendo que queria aproveitar a ideia, eu teria concordado, e de bom grado. Ele não o fez, o que pode ser considerado inadequado ― mas, ilegal? Eu relutava em ver a coisa dessa maneira. De modo que resolvi dar o assunto por encerrado ― para decepção, não pude deixar de notar, de algumas pessoas, que gostariam de ver a briga continuar.
***
Algumas conclusões se podem tirar desse episódio, para o qual o adjetivo “bizarro” me ocorreu desde o início. É, de fato, uma coisa muito estranha. Há, nela, uma discussão objetiva sobre o que vem a ser, afinal, plágio. Objetiva porque há evidentes repercussões práticas nesta época de marcas, patentes e direitos autorais, mas nem por isso fácil de resolver. Mesmo que princípios gerais sejam fixados, cada caso será um caso e exigirá uma decisão, judicial ou não, independente.A outra questão diz respeito aos famosos quinze minutos de fama, de que falava Andy Warhol. Um livro chega ao noticiário de duas maneiras. Pode ser através de um artigo crítico ou de uma resenha. Mas, se for dessa maneira, pode-se ter certeza de que a repercussão será limitada. Barulho mesmo faz o succès de scandale. Que, diga-se desde logo, não afasta o mérito literário. Escândalo provocaram livros como Madame Bovary, de Flaubert, L’Assomoir, de Zola, e Le diable au corps, de Raymond Radiguet, para ficarmos só na França, onde se originou a expressão. E qual o mecanismo deste sucesso? É como se as pessoas dissessem, repetindo o Eclesiastes: há livros demais no mundo ― acrescentando em seguida: deem-me um motivo para ler esse livro em particular. E, quanto mais picante, mais controverso for o motivo, melhor ― e tanto maior a possibilidade dos quinze minutos de fama. Por coincidência, na mesma época da discussão sobre os livros, estourou o escândalo Winona Ryder: a atriz tinha sido surpreendida roubando roupas de uma loja. Não menos surpreendente foi o artigo aparecido em um jornal americano, dizendo que o julgamento seria benéfico para a carreira de uma atriz cujos últimos filmes, segundo o articulista, não haviam tido muito êxito. Pouco depois disso, um conhecido contou-me o sonho que tivera: sonhara que a história do plágio havia sido combinada entre Yann Martel e eu, para mútua promoção. Um sonho inteiramente explicável, na conjuntura em que vivemos. Livro depende de promoção ― e a promoção depende, entre outras coisas, da visibilidade do autor. Isso explica o desaparecimento do pseudônimo, por exemplo. E explica as viagens coast to coast que os escritores americanos fazem, atravessando os Estados Unidos de um ponta a outra para falarem de seus livros em palestras e programas de tevê. É claro que qualquer coisa que chame a atenção para a obra, nestas circunstâncias, é bem-vinda.
Nem todos os escritores aceitam essa injunção. Lembro Rubem Fonseca recusando-se a falar sobre sua obra em uma mesa-redonda: “O que tenho a dizer está nos meus livros”. Mas entre essa recusa e a aceitação total, às vezes até entusiástica, há um gradiente de possibilidades no qual os escritores vão se situando conforme sua disponibilidade, conforme seu temperamento, conforme sua capacidade de comunicação. Parte disso corresponde ao papel do escritor como intelectual: as pessoas esperam que quem sabe escrever saiba também falar e tenha ideias a transmitir.
O importante é não fazer um investimento emocional nesta fama passageira. O importante é não tentar repetir os quinze minutos. “Não há segundo ato nas vidas americanas”, disse Scott Fitzgerald, e isso é válido especialmente para arte e literatura: depois que as cortinas do palco se fecham, elas não abrem mais. As pessoas que não acreditam, ou não querem acreditar nisso, entregam-se, não raro, às mais patéticas tentativas para fazer de novo brilhar, sobre si, os refletores do sucesso. Que têm um grande efeito: aquecem o ego. E não existe entidade que deseje ser mais aquecida, e massageada, e acarinhada, do que o ego. No passado, essa era uma exigência tímida, porque individualismo é uma coisa relativamente recente: pode ter existido sempre, mas criou força com a modernidade, e triunfa nesta época narcísica em que vivemos. O ego exige sucesso. Mas, como disse Clarice Lispector, numa carta a uma jovem que pretendia tornar-se escritora: “Quando você fizer sucesso, fique contentinha, mas não contentona. É preciso ter sempre uma simples humildade, tanto na vida como na literatura”. Contentinha, mas não contentona: em quatro palavras, Clarice disse tudo, o que não é de admirar, em se tratando de uma grande escritora. É interessante, aliás, que tenha usado a expressão “contente”, mas não “feliz”. Não é a mesma coisa. Felicidade é uma coisa transcendente, imaterial. Contente é aquele que contém: sua carência foi preenchida com elogios, com tapinhas nas costas. No Brasil temos a expressão “o bloco dos contentes”. Usa-se em geral para pessoas que, ligadas à administração pública, conseguem favores, privilégios, mordomias. O que as contenta vem de fora.
Literatura não é fonte de contentamento. Nem é coisa que possa ser feita pelo membro de um bloco. Ela é, essencialmente, um vício solitário. Isto não quer dizer que tenha de ser praticada numa isolada torre de marfim. A grande literatura inevitavelmente reflete o contexto social da época. Mas o faz como um sismógrafo, cuja agulha desloca-se como resposta a movimentos profundos. Espero que isso tenha acontecido, ao menos em parte, ao menos em pequena parte, com uma história chamada Max e os felinos. Todo o resto, francamente, não tem muita importância.
Nota do Editor:
Texto gentilmente cedido pelo autor. Originalmente publicado na coletânea Legado Fliporto 2007 (Edições Bagaço, 2008).
[Marcelo De Franceschi]
Comments:
-
Bruno
Depois deste excelente texto, eu resolvi… começar a ler os livros de Scliar. Ele acaba de ganhar um novo leitor!
-
Orlando Hanusch
Conheço Moacyr Scliar como o primeiro gaúcho a fazer parte da Academia Brasileira de Letras.A sua carreira literária começou no Ginásio Estadual Julio de Castilho em Porto Alegre RS, uma das maiores escolas públicas do Brasil e do mundo. Hoje atende mais de 4.000 alunos do Ensino Médio.O jovem judeu do bairro Bom Fim, escrevia cartas de amor e colava-as debaixo de sua carteira para que a menina que estudava em outro turno a respondesse.Na época os meninos frequentavam um turno e as meninas outro turno.Tive o grato prazer de ser professor da instituição, presidente do Centro dos Professores na época da conquista da cadeira na ABL.Este filho da escola pública de qualidade que abandonou a medicina para tornar-se uma dos maiores gênios inventivos da literatura brasileira.Escrever sempre foi um ato de transgressão, insubmissão, um amor incondicional a arte.A mãe professora e pai comerciante foram os seus maiores aliados.Apostaram no talento do filho mesmo quando ele fraquejava, tinha muitas dúvidas sobre a sua carreira.A vida de Scriar é tão rica quanto a sua literatura.Vale a pena conhecê-la em detalhes. A sua criação é um plágio de sua vida e de seus pacientes, pois foi um excelente médico psicanalista.O divã se transformou em muitos livros, onde reinventamos a nós, pela leitura, em meio a lágrimas e risos!
Prof. Orlando Hanusch -
Pingback: Lá vem o plágio de novo… | Poetriz
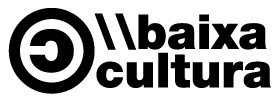




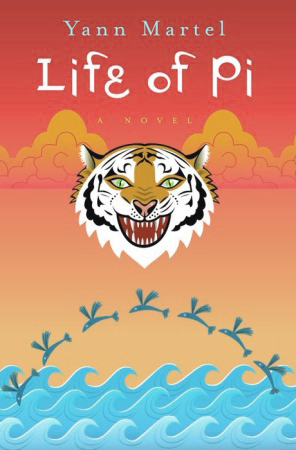

Francine
Certa feita perguntaram a Neil Gaiman se ele iria processar a autora de Harry Potter devido as semelhanças existentes com a HQ “Livros de Magia”.
Gaiman sabiamente afirmou que o processo seria uma besteira, já que o arquétipo do menino bruxo foi utilizado várias vezes e certamente será usado várias outras vezes.
Os bons escritores sabem o que são mitos, o que são arquétipos, o que são referências. Eles sabem que o conhecimento é algo coletivo.