
Colonialismo digital: a nova fronteira da dependência latino-americana
Publicamos, eu e Joana Varon (Coding Rights) um artigo breve no Le Monde Diplomatique sobre os desafios do colonialismo digital na América Latina. É um texto mais de incidência política no debate brasileiro, que levanta preocupações (geopolíticas e ambientais, principalmente) e propõe alguns caminhos para que possamos pensar em uma autonomia (ou soberania; não problematizamos estas duas definições por hora) digital concreta, a partir de políticas públicas mas também de atuação nas comunidades. Republicamos aqui abaixo na íntegra.
[Leonardo Foletto]
llustração da capa: Giovanna Joo, Tramas Digital
A rotina digital de milhões de latino-americanos começa e termina em servidores estrangeiros. WhatsApp, Instagram, Gmail, ChatGPT: cada interação alimenta um sistema de extração sistemática de dados que enriquece corporações do Vale do Silício enquanto aprofunda nossa dependência tecnológica. Não se trata apenas de conveniência: estamos diante de uma nova etapa do colonialismo, agora operando através de cabos de fibra ótica e algoritmos.
Esse processo de extrativismo e exploração dos nossos dados gerados pelas interações cotidianas em serviços em sua maioria de big techs dos Estados Unidos tem sido chamado de colonialismo de dados. No Brasil, os números são expressivos: cerca de 134 milhões de usuários ativos do Instagram, 160 milhões no WhatsApp e 140 milhões de mensagens diárias enviadas ao ChatGPT – somos o terceiro país que mais usa essa ferramenta no mundo em 2025, segundo dados da OpenAI. O colonialismo, como se sabe, não é um período histórico que acabou, mas um sistema de dominação que continua operando no presente, tanto por práticas extrativistas, como pela maneira como formas de conhecimento, corporalidades e territórios diferentes da visão daqueles que tentam dominar são inferiorizados. Nesse sentido, tendemos a estender o conceito de colonialismo de dados para a ideia de colonialismo digital, porque o colonialismo, aqui, vai além de dados: ele se manifesta na extração de minérios para dispositivos tecnológicos, no consumo predatório de água e energia para datacenters, na precarização do trabalho de moderação de conteúdo no Sul Global, na imposição de valores corporativos através de algoritmos que decidem o que merece visibilidade, entre outras tentativas de submissão.
Nesse modelo, o futuro da humanidade no planeta também fica ameaçado. A visão colonialista dá motivos para que CEOs das big tech se alinhem cada vez mais com lideranças da extrema direita nos Estados Unidos e fechem contratos com a indústria militar, acumulando cifras a cada vez que uma guerra eclode, além de usar territórios em conflito como laboratórios para testar, sem qualquer limite ético, novas tecnologias de vigilância e controle. Olhando o mundo como território de conquista, as infraestruturas dessas empresas têm expandido suas buscas justamente para regiões já vulnerabilizadas por crises ambientais. Mas, para as big tech, mudanças climáticas também são vistas como oportunidade de negócio, pois propagam o tecnosolucionismo – a crença de que as tecnologias resolvem tudo, inclusive a crise ambiental, sem considerar que a expansão das IA no modelo de colonialismo digital também gera conflitos socioambientais.
No Brasil, embora tenhamos legislações de proteção de dados (como a LGPD, em vigor desde setembro de 2020) e projetos de leis para regular IAs em estado avançado de tramitação (o PL 2338/2023, aprovado pelo Senado em dezembro de 2024, agora na Câmara dos Deputados), nossa infraestrutura física permanece majoritariamente controlada por corporações estrangeiras. E agora ainda se quer oferecer incentivos para que esse cenário permaneça. O governo brasileiro ofereceu, através da Medida Provisória 1.318/2025, incentivos fiscais visando atrair datacenters – sem contrapartidas efetivas de transferência tecnológica ou garantias sólidas de que não vamos virar apenas um quintal de datacenters para as big tech estrangeiras.
Projetos de mega datacenters avançam em estados como Rio Grande do Sul, São Paulo e Ceará com isenções generosas, sem debate público adequado sobre seus impactos ou benefícios. Um único datacenter de grande porte, como o proposto para Eldorado do Sul – uma das cidades mais atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul em maio de 2024 – pode consumir água equivalente a uma cidade de 50 mil habitantes e energia para dezenas de milhares de residências. Em Caucaia, no Ceará, onde a TikTok pretende instalar mega estrutura que gastará 30 mil litros de água por dia, moradores, puxados pelos indígenas Anacé, se mobilizam contra os impactos ambientais e sociais dessa infraestrutura, para questionar por que a água chega para as empresas escolhidas pelo governo cearense e fica só na promessa para as comunidades, como revelou a repórter Laís Martins no The Intercept Brasil.
Esse modelo extrativista configura uma dupla pilhagem: extraímos recursos naturais e dados brutos, enquanto o processamento, a análise e o desenvolvimento de inteligência artificial – o valor agregado – permanecem concentrados no Norte Global. A questão da IA agrava esse cenário de dependência. Com datacenters multiplicando-se exponencialmente, uma questão urgente segue sem resposta: afinal, precisamos mesmo dessa IA para tudo aquilo que nos dizem que precisamos?
A América Latina, ansiosa por atrair megaprojetos estrangeiros, tem sofrido bastante. Querétaro, no México, pela proximidade com os Estados Unidos, é um território explorado com essa finalidade já há alguns anos, com resultados catastróficos. Por outro lado, a região tem sido também exemplo de resistência, onde geógrafas, cientistas de dados, jornalistas e movimentos de defesa do território se unem para demandar ações de políticas públicas. No estudo “Não é seca, é saque: Querétaro, o vale dos centros de dados”, muitas dessas estratégias de resistência são narradas.
Países como China, Rússia, Índia e nações europeias têm construído legislações e infraestruturas próprias, como demonstram estudos em “Economia Política de Dados e Soberania Digital: conceitos, desafios e experiências no mundo”, publicados pelo centro Celso Furtado. A China, por exemplo, colocou em prática em 2017 sua Lei de Segurança Cibernética exigindo localização de dados em território nacional, enquanto a Índia expande agressivamente sua infraestrutura de datacenters próprios. O Brasil tem potencial para buscar soberania tecnológica, alinhada com outros valores, como governança democrática, gestão comunitária e promoção de infraestruturas autônomas. Modelos alternativos existem, baseados em dados curados comunitariamente, infraestruturas descentralizadas e federadas. Há, também, exemplos de desenvolvimentos de IA nesse sentido, como os liderados pela cientista da computação Timnit Gebru – que saiu do Google justamente por questionar a ética da empresa – que estão no policy briefing “Fostering a Federated AI Commons Ecosystem”, destinado inicialmente ao G20 que aconteceu no Brasil. Essas alternativas, porém, não recebem o mesmo investimento nem visibilidade midiática que as soluções corporativas.
Acreditamos que construir autonomia digital demanda três frentes articuladas. Primeiro, uma política que incentive datacenters públicos e cooperativos, geridos por consórcios de municípios ou estados, que operem sob controle democrático – com participação de conselhos gestores incluindo universidades, movimentos sociais e representantes de comunidades afetadas – e transparência total sobre uso de recursos hídricos e energéticos, que não apenas atraia Google, Amazon e Microsoft com benefícios fiscais como tem sido feito hoje. Segundo, fortalecer redes nacionais como a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que desde 1989 demonstra a viabilidade de infraestrutura pública conectando mais de 1.500 campi e instituições em todos os estados, beneficiando milhares de alunos, professores e pesquisadores. A RNP já oferece serviços de nuvem para universidades e poderia ser expandida para governos municipais, escolas e organizações sociais, investindo em infraestrutura realmente pública, sem ceder dados e gestão às big tech. Terceiro, marcos regulatórios que condicionem operações estrangeiras à transferência efetiva de tecnologia – não apenas montagem de equipamentos, mas capacitação técnica avançada e desenvolvimento de componentes nacionais –, respeito à jurisdição nacional e políticas ambientais rigorosas com metas mensuráveis de consumo hídrico e energético.
No entanto, falar em autonomia tecnológica não se resume a ter servidores em território nacional. Significa desenvolver, manter e evoluir nossas próprias soluções tecnológicas. O pix é um exemplo exitoso, que nos livrou de ter grandes volumes de dados sobre transações monetárias da população geridos pela Meta, via Whatsapp pay, que estava por ser lançado na mesma época. O Brasil tem tradição em software livre e redes de pesquisa e desenvolvimento em ciências da computação com mentes brilhantes – seria importante ter desenvolvimento local para que o sonho dessas pessoas não seja apenas ir trabalhar para uma big tech como acontece hoje. Autonomia tecnológica significa expandir essas iniciativas e plataformas cooperativas com fomento público consistente. Bancos públicos como Banco do Brasil e Caixa Econômica poderiam condicionar financiamentos à adoção de tecnologias abertas. Significa também que comunidades – indígenas, quilombolas, periféricas – possam decidir sobre coleta e uso de dados em seus territórios, revertendo a lógica extrativista. Significa democratizar o poder sobre a infraestrutura tecnológica.
Portanto, a construção de alternativas ao colonialismo digital na América Latina exige articulação regional, troca de experiências de resistência e recusa da narrativa de que nossa dependência das big tech é inevitável. A autonomia tecnológica precisa ser conquistada com organização popular, investimento público estratégico e clareza de que tecnologia é, fundamentalmente, uma disputa de poder.
Joana Varon é fundadora e diretora da Coding Righs, entidade integrante da Coalizão Direitos na Rede.
Leonardo Foletto é professor/pesquisador na ECA-USP e integrante do Creative Commons Brasil, entidade integrante da Coalizão Direitos na Rede
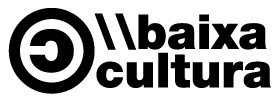
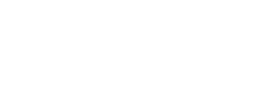


Deixe um comentário