Breque dos APPs e as alternativas para o trabalho digitalizado

Foto: Rafael Vilela/Mídia Ninja
A pandemia exacerbou a já visível exploração de trabalhadores por parte de plataformas digitais como Rappi, iFood e Uber Eats. O Breque dos APPs, realizado em 1 de julho de 2020, foi um começo de organização da luta desses profissionais, que se espalhou Brasil afora e promete seguir forte. Criou-se o cenário para refazer uma pergunta feita há tempos: há alternativas à estas plataformas?
Não é nenhuma novidade que o distanciamento social como medida pública de saúde para conter o avanço do covid-19 aumentou a demanda pela entrega de refeições e alimentos em casa. Ao mesmo tempo, na outra curva da equação, com a economia estagnada e taxas de desemprego que já vinham crescendo e agora explodiram, a quantidade de desempregados migrando para a função de “autônomos” também aumentou.
No meio destas duas variáveis ascendentes, estão as plataformas digitais, embutidas de algoritmos supostamente neutros que servem para conectar ofertantes e demandantes. Mas é sabido que não é apenas para fazer essa relação que as plataformas funcionam. Nesta função de conexão, as empresas donas dos aplicativos são proprietárias do código que liga o cliente ao prestador e determinam o preço cobrado pelo serviço baseado em uma lógica interna desconhecida tanto dos usuários quanto de quem o utiliza para trabalhar.
No caso dos apps de entregas, durante a pandemia foi percebida a queda no valor recebido por entrega, possivelmente devido ao aumento no número de pessoas que passaram a trabalhar como entregadores. Ou seja: diminui o número de entregas por entregador e o valor pago por entrega, fazendo com que trabalhadores passem agora mais de doze horas por dia rodando para receber o sustento necessário. Ninguém além das próprias empresas sabem com qual razão é calculada a diminuição da comissão por entrega e o quanto a quantidade de entregas ou de pedidos por dia influencia nesta composição. A mesma coisa acontece com aplicativos de motoristas e outras categorias.
A paralisação dos entregadores de aplicativos (Breque dos Apps, em 1/7) escancarou a relação exploratória entre plataformas e trabalhadores. Como diz Paulo Lima, conhecido como Galo (@galodeluta), já uma figura requisitada na mídia (alternativa) brasileira, “A alimentação é a coisa que mais dói, ter que trabalhar com fome carregando comida nas costas” (em “Superexplorados em plena pandemia, entregadores de aplicativos marcam greve nacional”).
Grupos de entregadores de aplicativos em diversas cidades do país e de outros países da América Latina se uniram para reivindicar condições mais justas de trabalho: refeições, EPIs e álcool gel para atender clientes durante a maior pandemia do século, e maior comissão por entrega, que permita trabalhar menos horas, entre outras reivindicações por condições melhores (que deveriam ser básicas) de trabalho.
Desde o início, as plataformas mantêm o mesmo argumento: não são empregadores, portanto não tem obrigação com os ofertantes. Conectam pessoas que querem um serviço com outras que oferecem o serviço, e só. Mas se são apenas atravessadores, como podem, por exemplo, definir o preço praticado online, debitar despesas da conta dos entregadores e motoristas, e até mesmo praticar o boicote velado a seus ditos “colaboradores”? Há mais variáveis neste serviço que apenas a conexão.
Em um paralelo com a gestão competitiva e manipuladora que já era feita no Brasil com revendedoras por empresas de cosméticos, a pesquisadora Ludmila Abílio (2020) sintetiza a interação dos entregadores, motoristas e demais prestadores de serviço com as plataformas digitais: “submetido a um gerenciamento obscuro e cambiante que define/determina quanto ele pode ganhar e quanto tempo terá de trabalhar para tanto, o trabalhador estabelece estratégias de sobrevivência e adaptação, visando ao mesmo tempo decifrar, adequar-se à e beneficiar-se da forma como o trabalho é organizado, distribuído e remunerado”. Em resumo: precarizado, o trabalhador adere, não é contratado. Como diz Galo: “Quem faz nossos horários são nossas dívidas“.
A urgência do tema não é novidade. O capitalismo de plataforma introduziu uma nova roupagem à precarização do trabalho, agora rebatizado de “empreendedorismo”, barrando até mesmo a possibilidade de trabalhadores reivindicarem direitos judicialmente. Mas a percepção que os autônomos têm do funcionamento destas plataformas vêm mudando conforme o entendimento sobre a relação injusta com o aplicativo aumenta. Em diversos países surgem iniciativas de organização entre os trabalhadores de aplicativos, em níveis de articulação regional, nacional e internacional.
Tanto as paralisações programadas quanto as ações destas novas organizações de trabalhadores ainda não podem ser consideradas como bem articuladas em suas propostas e ações. Rafael Grohmann e Paula Alves, do DigiLabour, dizem em matéria na Jacobin Brasil que “é inútil, e contraproducente, exigir um movimento pronto – fast food – sem contradições ou com todas as soluções “para ontem”. O movimento real está em plena construção.”.
Este movimento desponta em tempo real para três frentes. A primeira, claro, para novas paralizações: há outra nacional marcada para o dia 25/7, que continua exigindo o aumento do valor por km, do valor mínimo da entrega, o fim dos bloqueios do entregador nos aplicativos, o fim da pontuação e restrição de local, seguro de roubo, de acidente e vida, e equipamentos de proteção contra a covid-19. Se for do mesmo tamanho da primeira, que ocorreu em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife e algumas cidades do interior, fortalecerá uma revolta que teve apoio popular e alguns resultados expressivos nos reviews e notas dos principais apps, que nesse dia tiveram um pico negativo.
A segunda diz respeito à organizações representativas dos trabalhadores para reivindicar direitos junto ao poder Público; já há conversas na Câmara dos Deputados sobre isso. Aqui há uma grande incógnita (e uma certa esperança, especialmente na esquerda) de como será a relação destas organizações com os sindicatos, de modo geral engessados no século XX em seus métodos de representação e em muitos casos subordinados à partidos políticos. Grohmann e Alves citam, no texto da Jacobin, a Asociación de Personal de Plataformas (APP), na Argentina, Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB), na Inglaterra, e #NiUnRepartidorMenos, do México, como alguns exemplos de como os trabalhadores estão se organizando de maneira próxima a de sindicatos. No mesmo texto, há a informação de que no Brasil, só entre os motoristas, já há 18 sindicatos e associações, o que denota também um crescimento de organização dos entregadores por aqui.
Outro movimento que mostra esse crescimento foi realizado em junho de 2020: a primeira conferência digital global de trabalhadores da chamada “economia de plataforma” (ou capitalismo de plataforma, entre outros nomes). Foi organizada por, entre outros, a Taxi Project 2.0, uma iniciativa de origem espanhola que está agregando diversos outros grupos do país e da Europa ligado aos serviços de transporte de passageiro, como Uber e Cabify, mas também dos apps de entrega.
A terceira frente surgida a partir da movimentação dos entregadores de apps é a que mais nos interessa aqui: soluções para o trabalho digitalizado. Há as soluções de alternativas organizacionais em que, por exemplo, a plataforma é autogerida ou cooperativa. Nesse aspecto, o cooperativismo de plataforma (da qual já falamos aqui) surge como alternativa ao modelo das plataformas privadas. Aproveita-se a tecnologia mas redefine-se a propriedade sobre o algoritmo e sobre os dados: são os próprios ofertantes e demandantes que são donos e operam a plataforma, sem a necessidade de atravessadores com interesses próprios e propostas injustas.
O documentário Reclaiming Work, de Cassie Quarless e Usayd Younis, da produtora Black & Brown Film, apresenta cooperativas de entregadores (de bicicleta ou motoboys) que oferecem uma alternativa às gigantes Deliveroo [aplicativo de entrega de comida britânico] e Uber. La Pájara, uma das cooperativas que aparecem no documentário, foi formada após alguns onda de protesto contra a Deliveroo em Madri. Em Barcelona, há a Mensakas, que desenvolveu sua própria plataforma e que prioriza redes de economia solidária na circulação de alimentos e outros produtos para a população catalã. Em debate organizado pela Fundação Rosa Luxemburgo no dia 16/7, Galo de Luta comentou que os Entregadores Antifascistas, coletivo que tem puxado o #BrequedosApps no Brasil, está se organizando enquanto cooperativa, com vias de produzir seu próprio aplicativo. Ainda sem plataforma, há alguns anos funciona em Porto Alegre a Pedal Express, coletivo organizado horizontalmente de entregadores de bicicleta.
Cooperativas como a La Pájara ou a britânica York Collective são apoiadas por uma federação ainda mais ampla, a CoopCycle — uma “cooperativa de cooperativas” sediada na frança com atuação na Europa e na América do Norte. A organização criou um software que pode ser utilizado por quaisquer interessados em iniciar uma cooperativa de entregadores – para garantir que o negócio não seja cooptado, a licença de utilização do software, chamada não por acaso de Coopyleft, só é permitida para iniciativas que sigam o modelo cooperativo. Desta forma, buscam garantir que a tecnologia está nas mãos dos próprios entregadores cooperativados, uma decisão que retoma a posse dos dados e das tecnologias utilizadas, o que descentraliza a propriedade e ajuda a combater os monopólios que fizeram da rede hoje um grande jardim murado controlado por poucos e criaram a “ressaca da internet” que comentamos aqui faz dois anos.
Os principais componentes da Coop.Cycle incluem software, aplicativos para smartphones, mapeamento, seguros e construção de alianças com potenciais fornecedores, oferecidas a qualquer cooperativa que entre para a rede. Esse é um elemento fundamental para que, de saída, essas cooperativas possa disputar o mercado de Apps multinacionais como Rappi, Uber e iFood, pois a partir dessa tecnologia é possível reunir grupos e cooperativas, como o La Pájara ou o York Collective, com trabalhadores isolados e conectar estes com os clientes e fornecedores de alimentos. Há também outras plataformas digitais de propriedade dos trabalhadores ligadas ao Cooperativismo de Plataforma que estão buscando fazer, em diferentes áreas, esforços parecidos, muitas listadas nesse diretório.
As cooperativas tem como método de financiamento a contribuições dos trabalhadores, definidas e compartilhadas, em tese, de maneira transparente. A gestão de uma plataforma cooperativa é, portanto, democrática, fornecendo não apenas uma voz aos trabalhadores, mas profissionalizando de verdade seus trabalhos dentro da “Economia de Bicos”, e dando a eles o controle de como isso é definido. Os trabalhadores também ganham proteção real na forma de seguros e de representação legal que, na maioria dos casos, são inexistentes nas plataformas convencionais.
Há, ainda, diversas limitações práticas para construir cooperativas, em especial na área de tecnologia. A cultura predominante não é propícia a isso, muito menos os modelos de negócios e financiamento predominantes; no Brasil, porém, uma cooperativa nessa área é modelo de atuação e prestação de serviços há alguns anos: a Eita, que desenvolve tecnologia em diálogo com movimentos sociais populares, redes e instituições de pesquisa e já fez plataformas de mapeamento de feiras orgânicas e o aplicativo de consumo responsável Responsa, entre outros projetos. Há um longo caminho a percorrer para que esse tipo de cooperação possa ter uma chance real de desafiar as grandes plataformas, mas usar a tecnologia para ajudar os trabalhadores a desfrutar (e tomar) os meios de produção parece ser um caminho possível para reconstruir uma economia em prol do bem-comum.
[Leonardo Foletto e Victor Wolffenbuttel]
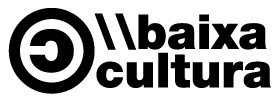


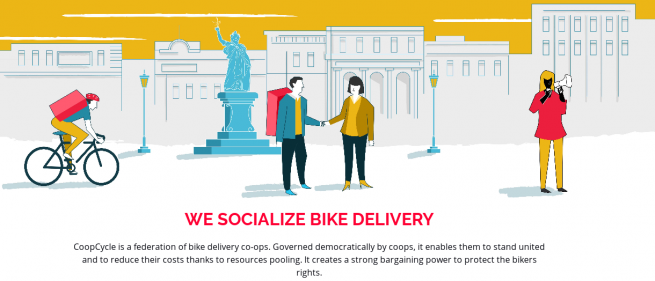

Deixe um comentário