Por uma cultura livre no futuro do trabalho

Cultura livre pelas ruas de Barcelona, projeto Enfrenta.org
Como equilibrar a balança entre o acesso à informação/conhecimento/bens culturais X remuneração dos autores? Pergunta sem resposta única e definitiva, que necessita ser vista em cada situação que se quer analisar, foi um dos temas debatido na mesa “Os serviços sofisticados: Cultura e Conhecimento”, do Outras Palavras.
[Leonardo Foletto, editor do BaixaCultura]
Semana passada, à convite do Outras Palavras, participei do ciclo de debate “O Futuro do Trabalho no Brasil” na mesa chamada “Os serviços sofisticados: Cultura e Conhecimento“. Ao lado de duas pessoas que admiro bastante: Tatiana Roque, professora do Instituto Matemática da UFRJ, ativista da Renda Básica e ativa pensadora feminista e das subjetividades na esquerda brasileira; e Célio Turino, historiador, escritor, agente cultural, esponsável pelo conceito e implantação dos Pontos de Cultura no Ministério da Cultura de GIlberto Gil nos anos 2000.
A ementa da mesa tinha três perguntas-provocações tão instigantes quanto (de respostas) complexas: como o Brasil pode aproveitar e estimular, numa requalificação de sua economia, traços socioculturais notáveis, como a criatividade, a irreverência, a versatilidade? Como construir uma Economia da Cultura, do Conhecimento, da Ciência e dos Afetos avançada, inclusiva e redistributiva? Como seus ritmos próprios, ligados à criação e à inventividade, podem abrir caminho para uma proposta essencial no século XXI: a redução geral das jornadas de trabalho?
Pensei em fazer uma fala que tratasse de cultura livre, claro, e de que fomentar o acesso ao conhecimento e a cultura num país como o Brasil é condição essencial para pensar em uma economia da cultura e do conhecimento inclusiva e redistribuitiva. Um pouco antes, porém, fui atravessado, por uma leitura recente que fala de utopia – e não distopia, palavra da moda e tão real pra esses tempos – e pensei que seria bom inserir alguns trechos dessa leitura para trazer um pouco de ideias que nos ajudem a repensar o futuro mesmo (ou principalmente) com as iminentes discussões sobre o fim do mundo, Antropoceno, Instrusão de Gaia, entre outros termos que falam da destruição do que chamamos de natureza de forma irreversível pela ação humana, ainda mais vísivel em 2020 no Brasil de Bolsonaro.
Por motivos diversos, acabei não usando na mesa o trecho resgatado da leitura em questão: “Utopia Brasil“, livro de Darcy Ribeiro, mais precisamente um texto desse livro chamado “IVY-MARAẼN, TERRA SEM MALES, 2997”, uma ficcão utópica do antropólogo (e também escritor de ficção) criador da Universidade de Brasília. Mesmo o debate indo para outros lugares, resolvi resgatar o que tinha pensado em falar a partir de “Ivy-Marãen” e editei para transformá-lo em outro texto, publicado aqui no meu blog pessoal. Talvez não dialogue muito com o restante da mesa e mesmo do que eu anotei e acabei falando, mas sigo achando importante lembrar do que nós, brasileiros e latino-americanos, somos capazes quando criamos entornos sociais que potencializem nosso modo de vida tradicional.

A conversa na mesa enveredou por caminhos mais pragmáticos na tentativa de responder as questões disparadoras da mesa – embora nem eu nem Tatiana e Célio nos atentamos em somente responder a elas, como vocês podem ver no vídeo ao findl do post, com a íntegra dos quase 2h de debate. Falamos sobre a desmercantilização dos chamados serviços sofisticados (cultura e conhecimento); a monetização crescente dos nossos desejos potencializado pelas cada vez mais vigilantes tecnologias digitais; a redução da jornada de trabalho (com a boa lembrança por Cèlio do livro “Direito à Preguiça“, de Paul Lafargue, publicado em 1880) e a referência à outras culturas que não tem o trabalho como eixo organizador da vida, como a de alguns povos ameríndios; a invisbilização daquele trabalho que é feito durante todos os outros (inclusive os sofisticados): o trabalho reprodutivo, que suscitou a boa ideia de Tatiana de submeter a produção à reprodução, na linha que dialoga com historiadoras como Silvia Federici; como o estado pode visibilizar a produção cultural, entre outros tópicos. Trago aqui o restante que anotei para minha fala na mesa, com alguns acréscimos de edição.
CULTURA LIVRE E A REMUNERAÇÃO DE ARTISTAS
Agradeço o convite de Antonio por participar do debate e por poder dialogar com duas pessoas que admiro e acompanho o trabalho há anos, que fizeram, ou estão fazendo, políticas públicas que são fundamentais para o Brasil, caso do Cultura Viva e dos pontos de cultura que Célio Turino foi um dos criadores; e da Renda Básica, que Tatiana é uma das principais articuladoras da Rede Brasileira de Renda Básica.
Bueno, queria começar por uma questão que Antônio e outras pessoas já colocaram quando falo de cultura livre: como remunerar os artistas na cultura livre? como licenciar de forma livre e pagar aos artistas por suas criações? Teria que começar com a explicação do que é cultura livre e do que são licenças livres, e de como elas buscam equilibrar a balança entre o acesso à informação/conhecimento/bens culturais X à remuneração dos autores – nesse caso, remuneração que acaba ficando mais com os intermediários, quem é quem mais abocanha no valor de venda de uma dada obra.
Eu terminei agora um livro sobre cultura livre e a resistência anti propriedade através dos tempos – dos gregos à tecnologia digital, passando pela invenção do copyright, do direito autoral e das vanguardas do século XX – que vai sair pela editora Autonomia Literária em co-edição com a Fundação Rosa Luxemburgo. Creio que final de novembro ou início de dezembro já estará pronto e vocês poderão, se quiserem, ter acesso com muito mais detalhes do que falo quando trato de cultura livre.
No livro, trabalho com uma definição de Cultura livre como uma cultura que posta em circulação a partir de certos bens culturais em um dado mercado, são de livre acesso, difusão, adaptação e valor. Parto da definição do software livre, claro, que inspirou a adoção do termo no final dos anos 1990 e sua propagação nos primeiros anos da internet, e adapto aos bens culturais, em diálogo com pessoas que discutiram e trabalham com esse termo, de Lawrence Lessig à Anna Nimus, de César Rendueles a Dimitry Klainer. Nesse sentido, a primeira questão que se fala é que, assim como o software livre, cultura livre nao é necessariamente grátis.
A liberdade aqui implica autonomia na escolha e, depois, circulação livre, sem barreiras – ou com barreiras que podem ser escolhidas, como o caso por exemplo da licença copyfarleft, que permite o reuso, inclusive comercial, desde que seja compartilhado pela mesma licença, como a ideia do copyleft original, e que seja um uso por coletivos, organizações cooperadas e outras próximas especificadas na licença. É uma forma de não garantir a privatização e apropriação completa de um bem cultural e também incentivar o uso e reuso por iniciativas que tem mais a ver com nossos valores e compromissos éticos.
Assim a primeira pergunta pode se desdobrar em outra: como remunerar trabalhadoras e trabalhadores da cultura de forma a também não restringir e privatizar de modo excessivo os bens culturais e a produção de conhecimento?
Aqui minha resposta – talvez fácil, não sei – é que não há uma resposta pronta, lacradora. Há respostas diversas, para cada contexto. Há muitas entradas nessa discussão. A primeira é que um bem digital – um arquivo PDF de um livro, um disco em MP3, um filme – não é um bem rival, ou seja; eu posso ter em minha casa e você também pode ter em sua casa e tá tudo bem, ambos temos e ninguém fica sem. Falo isso porque toda a discussão da invenção da propriedade intelectual, nos séculos XVIII e XIX e que ainda permanece nas leis e no nosso imaginário, por exemplo, está em equiparar um bem rival (um objeto, terras, veículos instrumentos de trabalho) de um bem não rival, coisas que são claramente de naturezas distintas.
Nos anos 2000, a campanha antipirataria da indústria da intermediação – estudios de cinema, gravadoras musicais, principalmente – buscava a todo momento fazer essa equiparação: quando você baixa um arquivo, você está tirando um emprego de uma cadeia produtiva. Não é isso. Sabemos que essas campanhas não funcionaram: continuamos baixando música, filme, a cada blog fechado por disponibilizar links pra download, outros surgiram, como também assim ocorreu com o The Pirate Bay, até hoje atuante e com diversos espelhos, em que pese seus criadores terem sido processados por ação da indústria da intermediação sediada nos EUA e, cumpridos suas penas, fazerem hoje outras coisas da vida (ou não).
Aqui tem dois pontos importantes: o primeiro (1) é que o fato de baixar um filme não significa necessariamente que eu nao vá no cinema, nem baixarum disco que eu não vá comprar um CD ou vá a um show. Houve pesquisas nos anos 2000 e 2010 que diziam que o que se chamava de pirataria não afetava tanto quanto o propagandiado pela produção cultural.
O 2) é que em lugares em que o acesso à informação e a de bens culturais é mais escasso e de pouca qualidade, como o Brasil, ir contra às pessoas que baixam conteúdo, que compartilham suas cópias, que fazem xerox de textos, é um tiro no pé; você está criminalizando o elo mais fraco da cadeia, o usuário que não tem condições de pagar por cultura, e não o peixe grande que, esse sim, pode lucrar muito com pirataria – e provavelmente está ligado a outros negócios. Não sou punitivista, mas posso dizer: se tem alguém que poderia responder por crime são esses grandes, e não os usuários que baixam arquivos porque essa é a única opção de acesso que tem a certas obras.
Semanas atrás houve um debate nesse sentido no Twitter, daqueles que vão e vem e que quase só lá repercutem, feito a partir de postagens de uma editora de esquerda que começou a criticar publicamente quem baixava alguns de seus livros em PDF. Foi um tiro no pé, não? Vi muito mais esses arquivos circulando do que antes, inclusive como comentário aos posts da editora no Twitter. Eu mesmo só fiquei sabendo dos links depois da postagem da editora – aproveitei inclusive um link para baixar todos os livros, aliás.
É necessário dizer: é claro que devemos pensar na remuneração dos autores e da cadeia de produção de um livro. Mas esse pensamento não pode ser maior do que o acesso ao conhecimento e a cultura, não? Pelo menos é o que acho: dá pra conciliar ambos, tornar comum nossa produção, usar mecanismos que permitam a apropriação com fins que não exclusivamente o de retirar dinheiro dos autores, o que o copyleft e algumas licenças do creative commons, além da já citada copyfarleft, fazem há quase duas décadas.
No livro, ao final, eu trago outras perspectivas que não a ocidental para mostar como essa visão proprietária das ideias que temos hoje é também uma construção. No Extremo Oriente, por exemplo, a partir da influência do Confucionismo por mais de dois milênios, existe e permanece uma tradição diferente, que considera a cópia como algo básico, parte processo de aprendizado, o que remete até uma outra concepção de verdade e de processo criativo, mais marcado pela continuidade e por mudanças silenciosas do que pela ruptura que uma ideia genial trazida por um artista prmove, como consagrada na visão ocidental a partir do Romantismo do século XIX. Não se valoriza tanto a matriz da ideia, sua origem ou seu autor, mas como ela vai – ou precisa – ser continuada. Se a ideia permanece na cópia, então é como se a obra continuasse, sem ruptura, sem uma “nova obra”.
Em muitos povos originários, a perspectiva de propriedade intelectual também é diferente, muito mais comunitária e coletiva, mas um coletivo que não incorpora apenas os membros humanos de uma comunidade, mas outros seres animais, objetos, sem a separação habitual que fazemos entre sujeito e objeto. Nesse sentido, como é que se vai definir que uma obra é exclusivamente de alguém, que ninguém poderá usar sem pagamento de royalties a um determinado sujeito, se ela é fruto de um processo coletivo que também incorpora outros seres e se não há tão claro a seperação entre quem é sujeito e quem é objeto?
Enfim, trago aqui essas perspectivas pra gente pensar que não somos os únicos, que o ocidente nao é O mundo, mas que existem outras formas de ver as coisas, o mundo, as artes, a cultura, e que talvez temos que prestar atenção a esses outros jeitos para tentar encontrar formas de imaginar futuros e, então, buscar caminhos práticos para torná-lo nossa realidade – e, inclusive equilibrar a balança entre remuneração dos autores X acesso à cultura.
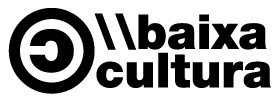



Deixe um comentário