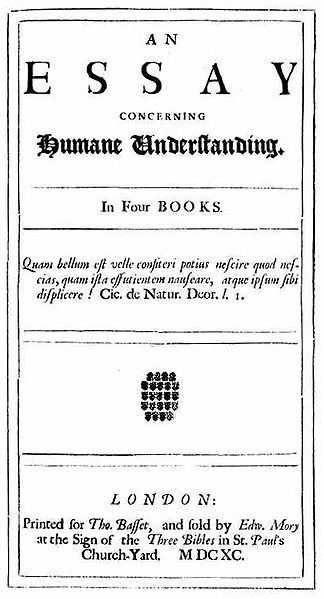
Pequeno ensaio para o final de semana (1)
.
Volte-e-meia, fizemos por aqui postagens um pouco mais teóricas que as convencionais, que pendem para o lado mais jornalístico. A busca teórica advém de um desejo natural de buscar o entendimento do contexto onde se situam os fatos que por vezes noticiamos e/ou comentamos (não que consigamos entender, mas é por este caminho a nossa busca). Com a superabundância de informação de nossos tempos, é cada vez mais fácil surfar na atualização contínua e se afogar na informação pura e simples, que provoca o desconhecimento do contexto de onde elas surgiram – é notório que a busca incessante por atualidade toma demasiado tempo para que um dia, de apenas 24 horas, seja usado para qualquer outra coisa que não se atualizar.
*
Dito isso, eis que vale a pena aqui resgatar, ainda que da maneira sucinta, um texto presente no livro Além das Redes de Colaboração: internet, diversidade cultural e tecnologias do poder, já citado por aqui, organizado por Sérgio Amadeu e Nelson de Lucca Pretto e resultado de dois seminários realizados em 2007, nos dois Rio Grande brasileiros (o do sul e o do norte). O texto – escrito por Alex Primo, pesquisador da área de cibercultura bastante conhecido no Brasil e que dispensa apresentações – é um dos bons exemplos de como a academia pode ser extremamente didática e clara em suas elocubrações sem a necessidade de ser simplista. O título do artigo em questão é grande e até sugere uma prolixidade que, felizmente, é dissipada na leitura: Fases do desenvolvimento tecnológico e suas implicações nas formas de ser, conhecer, comunicar e produzir em sociedade.
As fases do desenvolvimento tecnológico de que Primo fala foram trabalhadas em profundidade por André Lemos, outro teórico dos mais destacados na área aqui no Brasil, em seu livro Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea (editado em 2002 pela Editora Sulina, infelizmente não disponível na íntegra online), obra referencial de Lemos, professor sediado na FACOM da UFBA. São três as ditas fases: a fase da indiferença, que tem como principal traço a “mistura entre arte, religião, ciência e mito” e que vai da pré-história até a Idade Média; a fase do conforto, que corresponde à modernidade e tem como principal novidade o fato de que a ciência vai substituir a religião no monopólio da verdade, e, nas palavras de Lemos encontradas na página 56 de seu livro, “a tecnologia faz do homem um Deus na administração racional do mundo”; e, por fim, a fase da ubiquidade, que corresponde ao tempo de hoje e também a dita pós-modernidade, período que corresponde aos condicionamentos advindos do uso das tecnologias digitais na sociedade, nas palavras de Primo (na página 60 do livro já citado).
Esta distinção é buscada pelo pesquisador para fazer um levantamento de como as tecnologias se transformaram com o tempo, e, por sua vez, de como elas mesmas transformaram o seu tempo – um tipo de distinção que, mais do que reduzir a evolução dos tempos a categorias estanques, busca dar uma noção que facilita a contextualização das mudanças que vivenciamos hoje em todas as áreas e particularmente na cultura, que é nosso foco por aqui.
**
Indiferença
A primeira fase é caracterizada por uma “indiferença”, ou até um “preconceito”, com relação a técnica. A misturança que ocorre entre a arte, a religião, o mito e a ciência torna o poder governante algo mágico, oriundo de um poder divino que não distingue a técnica como algo relevante. Entendia-se a técnica como um trabalho menor, subjugado ao interesse “religioso” e da tradição, esses sim os portadores do conhecimento. As sociedades não ligavam o seu destino ao desenvolvimento tecnológico; sem a ciência, a técnica não era independente e os seus produtos eram influenciados pelos homens que as construíram. Ainda havia o fato de que as tecnologias produzidas por povos diferentes não podiam ser disseminadas tão largamente, pois 1) carregavam toda a carga cultural e características da civilização a qual pertenciam – como é salientado neste texto do blog de uma disciplina dada por André Lemos na Facom; e 2) ficavam restritas a um espaço físico determinado, pois, não havendo qualquer meio de transmissão massivo, sua transmissão dependia de coincidências geográficas ou do deslocamento de pessoas para um outro ambiente.
A ideia de autoria nesse período é baseada nessa visão de mundo. Nessa época – que vai aproximadamente até o fim da Idade Média, tendo talvez como marco final a invenção e a consolidação da imprensa, por Gutemberg – os textos raramente são identificados como sendo de um único autor; são narrativas passadas de pessoa para pessoa e reveladas por alguns poucos autorizados, que geralmente têm as condições morais e físicas para isso. O “escritor” seria o escriba de uma palavra que vinha de outro lugar, uma palavra que pertencia a uma tradição e não tinha valor a não ser o de desenvolver, comentar, glosar aquilo que estava ali (nas palavras de Roger Chartier encontradas na página 31 do incrível A aventura do livro: do leitor ao navegador, editado no brasil em 1998 pela Unesp, citado por Primo no texto e da capa abaixo).
A noção de autoria nesta época também está intimamente ligada aos meios de transmissão dos artefatos culturais. As formas de reprodução eram ainda custosas, quando existiam – até a invenção da imprensa, os livros eram todos editados manualmente, letra por letra, pelos escribas. Como diz o advogado e professor de direito da UFMG Túlio Vianna em artigo sobre o assunto, “as dificuldades inerentes aos processo de reprodução dos originais, por si só, já exerciam um poderoso controle da divulgação de idéias, pois o número de cópias de cada obra era naturalmente limitado pelo trabalho manual dos copistas”.
Comments:
-
asm
CORREÇÃO DO COMENTÁRIO ACIMA(modificare e não reler é foda!):
Apesar de ser acadêmico, não vou fazer nenhuma elocubração aqui. Só quero que dizer gostei do texto. 🙂 -
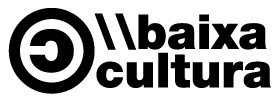


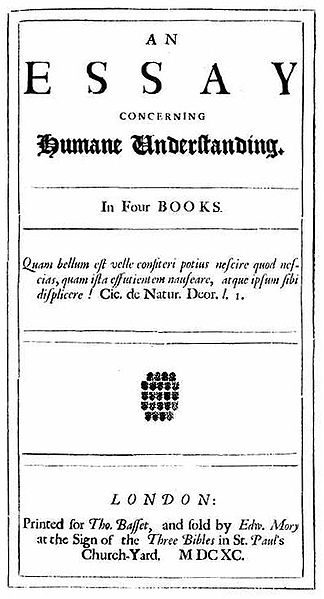


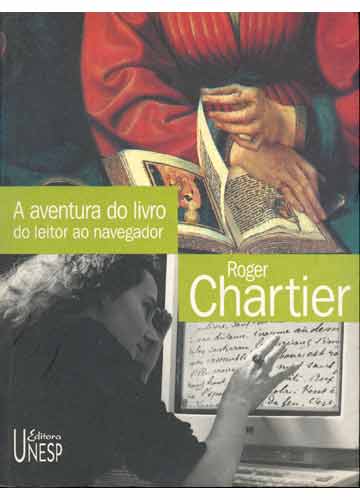

asm
Apesar de ser acadêmico, não vou fazer nenhuma elocubração aqui. Só quero que é geotei texto. 🙂